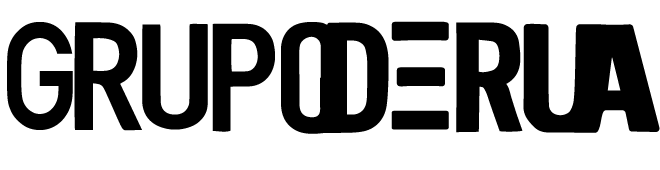Astronômica
misteriosa
orbital
HENRIQUE ROCHELLE
CRÍTICA
Técnica, misteriosa, provocante, quase religiosa é a criação de Bruno Beltrão para o Grupo de Rua de Niterói.
Escrito para o Criticatividade
Do título misterioso de “Inoah”, que Bruno Beltrão assina para o seu Grupo de Rua, é difícil supor alguma coisa. No palco, em cena, somos confrontados com um trabalho denso e de qualidade, mas sem nenhuma preocupação em nos dizer o que ele é, ou sobre o que ele é. Não encontramos nenhum dos apoios de sempre: release e divulgação da curta temporada por São Paulo focam na fama do grupo e do artista, e em seu reconhecimento internacional, negando-se a nos dizer mais sobre o trabalho.
As hipóteses, então, vão se construindo pela própria cena. Aberta e espaçosa, dominada por uma faixa de estreitos telões no alto do fundo e das laterais do palco, que funciona como uma linha de horizonte em projeções. Cria-se um recorte do espaço cênico, mas sem uma determinação de um espaço da ação, que se desenvolve pelo trabalho corporal de tensão e tônus de um elenco talentoso e altamente controlado.
Rapidamente, “controle” se sugere como um tema. Aqui, o controle do corpo provoca, esteticamente, a percepção de uma forma de controle do tempo, que transcorre pela obra continuamente, mas sem se marcar pela trivialidade de um ponteiro de relógio. O tempo aqui é de outra espécie. Ritualístico, alquímico, combativo. Religioso, talvez? Ele nos revela os indivíduos, ou seria, então, o universo, que se mostra?
Com a elevada capacidade dos intérpretes, poderíamos ser levados a grandes feitos ginásticos — e esses aparecem, vez ou outra —, mas é a construção poética que se sobressai na misteriosa “Inoah”. Fui caçar suas informações — esparsas, escassas, como se fosse realmente algum culto sobre o qual pouco se fala. Na página do Tanz im August, festival alemão onde a obra será apresentada ao final do mês, alguma indicação: “em ‘Inoah’, ele trata da situação política de seu país, o Brasil: contra um pano de fundo de escândalo de corrupção, Beltrão se pergunta como nos conectamos com o ambiente e somos influenciados por eventos e ideologias”.
Simultaneamente, me sinto mais encontrado e mais perdido com a obra, e acabo admirando ainda mais seu resultado. Releio minhas anotações, traçando paralelos entre o que eu pensara como articulações do macro (do uso do corpo no espaço) com o micro (retratado por um tanto de coreografia dedicada às mãos). Penso sobre a ideia do devocional e de um ritual de iniciação e no como isso poderia refletir a forma como lidamos individualmente com o mundo e aquilo que nos é externo.
Intrigado, ora vejo toda essa proposta, ora vejo algo completamente distinto. Me decido por chamar a obra de astronômica: construída no meio-fio entre a delicadeza das órbitas planetárias, co-existindo em múltiplas dimensões e velocidades, e a violência e brutalidade de uma chuva de meteoros.
Sugestionado pela linha do horizonte e sua passagem de tempo, pela marcação extremamente precisa dos bailarinos em conjunto e pela limpeza da execução que valorizam a coreografia, o movimento bruto e forte é sublimado em formas de escapar do chão que fazem desaparecer a noção de gravidade. Quando os bailarinos quicam do chão de volta para cima, eles parecem cair ao contrário, como se fossem astronautas desbravando espaço desconhecido.
Esse tipo de efeito é da ordem de marcas de uma poética de movimento bem cuidada, trabalhada ao longo de projetos que demandam tempo e investimento. Não é bobagem que a obra tenha co-produção de cinco festivais. Acabo traçando outro paralelo com a situação brasileira — a do investimento na arte. O que acontece com as nossas artes quando elas têm investimentos para se realizarem? A resposta, em cena: excelência.